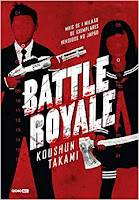Acabo de ler Battle Royale, best seller japonês cuja
adaptação para o cinema é considerado por Quentin Tarantino seu filme favorito de
todos os tempos. Exagero do diretor de
Django Livre e Kill Bill? Creio que sim, mas não há como negar que a história
preenche todos os requisitos de um filme tarantinesco, repleto de violência extrema
e morticínio.
Para ter-se ideia do nível da violência, o livro foi finalista
do Japan Grand Prix Horror Novel, mas foi desclassificado pelo seu conteúdo
polêmico. O livro virou um filme com uma sequência, série de mangás e um jogo
eletrônico. O filme está disponível no YouTube dublado, o que me
parece mais conveniente pois não gosto muito da língua japonesa no cinema, cheia
de gritinhos esganiçados.
A história se passa numa ilha japonesa onde 42 alunos do
ensino fundamental são confinados e obrigados a lutar até a morte. Haverá
apenas um vencedor em um programa de um governo japonês totalitário que nesta
distopia é a República da Grande Ásia Oriental. Os 21 rapazes e 21 moças recebem
coleiras de metal que podem ser explodidas caso algum deles resolva fugir ou se
ninguém morrer durante 24 horas.
Cada participante recebe um kit de sobrevivência com uma arma
aleatória que pode ser uma metralhadora ou um simples garfo, um colete a prova
de balas ou um bumerangue. A forma como cada um usará sua arma fica por conta
da sorte e habilidade.
Apesar de ter mais de 650 páginas, o livro poderia ser maior para abarcar todas as diversas subtramas
internas. Uma grave falha está no rebuscamento de certa linguagem quase barroca como esta: "Um cartucho dourado saiu voando e os raios de sol se refletiram nele enquanto abria caminho entre os galhos" e no abuso de soluções narrativas como o fato de os
personagens encontrarem facilmente na ilha isolada aparelhos eletrônicos ou
remédios e possuírem habilidades impossíveis para estudantes de ensino
fundamental.
Tenho sérias ressalvas à linguagem do livro. A história é muito boa, o seu desenvolvimento, no entanto, não me agradou tanto. Percebe-se que o autor lançou mão de diversos facilitadores de narrativa e preguiça no tratamento de algumas questões como a exibição do único personagem gay entre os 42 participantes. Nunca li uma descrição tão estereotipada de um personagem gay, com todos os preconceitos narrativos possíveis. Outro ponto que incomoda é a frequência com que os personagens insistem em falar de amor enquanto o morticínio avança. Há até um episódio em que uma moça mata um rapaz que, enquanto agoniza, lhe revela que a ama profundamente.
Além disso é desconfortável para um ocidental gravar tantos nomes parecidos de 42 personagens. Não dá muito para saber pelo nome se estamos diante de um rapaz ou de uma moça como Keita, Yutaka e Sho que são homens e Takako, Mitsuko e Izumi que são mulheres. Também há uma cena longa em que 3 mulheres lutam entre si e seus nomes são exatamente Yukie, Yuko e Yuka. É impossível discernir quem é quem.
A adaptação para o cinema americano empacou em razão do lançamento da série de filmes blockbusters Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, que tem infinitas semelhanças com Battle Royale. Os produtores consideraram que o remake seria encarado como uma cópia, apesar de Battle Royale ser anterior a Jogos Vorazes.