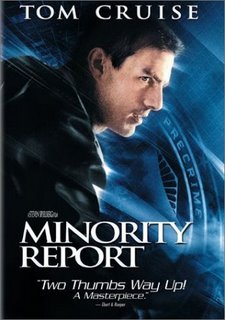
Um filme com Tom Cruise, bagagem de mais de 30 longas e bilheteria de US$ 2 bilhões, dirigido por Steven Spielberg, mais de 20 filmes e US$ 10 bilhões de bilheteria e roteiro baseado no autor de "Blade Runner" é garantia de um bom filme? Na minha opinião é garantia de dinheiro, bilheteria e muito marketing, mas não de um bom filme.
Por que tudo que Cruise faz tem que ser bom? "Vanilla Sky", refilmagem de “Abre Los Ojos” é um porre sem fim, preferível uma boa injeção na testa. Sua namorada, Penélope Cruz, está vergonhosamente apagada num filme pretensioso e chatíssimo.
Spielberg fez também recentemente um filme equivocado e malhado mundo afora. "A.I." herança de Stanley Kubrick, um grande prejuízo nas bilheterias, o que em si não significa que o filme é necessariamente ruim, mas não é bom também. Que quer: o nome Spielberg não é antônimo de fracasso. Esse seu Minority Report é um filme extremamente banal, com uma história muito pouco original e ee não fossem os quase 450 efeitos especiais seria apenas um filmezinho comum. Ainda tem uma montagem irregular, em alguns pontos ágeis e dinâmicas, em outros repetitivas e arrastadas, clichês em profusão, algo imperdoável, como o recurso exaurido de desmascarar o vilão em público e o final feliz do casal reconciliando-se.
Aqui estão alguns dos pontos especialmente fracos:
O personagem de Tom Cruise é totalmente dedicado ao trabalho porque tem problemas após perder o filho e se separar da mulher. Essa premissa é suficiente para que a gente saiba que ele vai se comportar no resto do filme, a gente já viu isso “até o nojo” em milhares de filmes de sessão da tarde. Só que não fosse bastante o diretor mostrar isso uma vez ou duas, ele fica entupindo nosso juízo com essas imagens do menino e da dor do pai. E tome-lhe imagem do menino e da dor do pai. E quando você pensa que ele vai parar, voltam as imagens do menino e da dor do pai....Viu como é chato uma coisa repetida desnecessariamente?
Syd Field, um dos maiores especialistas em roteiros, consultor da Tri-Star Pictures, lançou esse ano um volume que dá a exata dimensão do que pretendo explicar. O livro chama-se: “Como Resolver Problemas de Roteiro” e ele relata uma história de uma pessoa que escreveu um roteiro e não conseguia humanizar e solucionar uma cena de diálogo entre uma mulher e uma enfermeira. Syd Field ensina que na cena faltava uma carga dramática e uma motivação para o diálogo. E ele explica como resolver o problema. Ao que parece o roteirista desse Minority Report não aprendeu essas lições. A cena do diálogo entre Cruise e a veterana atriz Lois Smith, criadora do projeto dos precogs é fundamental para o desenrolar da história, mas o diálogo é inverossímil simplesmente porque não há motivação para que aconteça.
Outro diálogo que não há razão de ocorrer é o que têm a ex-esposa de Tom Cruise e o seu perseguidor Danny Witwer. Imprescindível para o desenvolvimento do filme mas completamente destituído de justificativa humana e psicológica. Não há porque ela contar tudo aquilo ao perseguidor do marido. Doc Comparato ensina na sua obra prima “Da Criação ao Roteiro”: Diálogo impossível é aquele que não tem credibilidade nem razão de existir; é formalmente correto, mas falta-lhe alguma coisa. Freqüentemente quando isso acontece, é porque existe uma falha na motivação e de intencionalidade por parte do personagem. Nesse caso é preciso rever a história e tratar de encontrar falhas da trama, uma vez que se trata de um erro de estrutura”
O filme tem problemas de concepção e lógica que Doc Comparato, consideraria problemas sérios. Diz ele na obra acima citada: “Todas as histórias têm uma lógica que não pode ser quebrada e que se baseia em como as coisas são na realidade. Todo roteiro deve conter esse sentido de credibilidade”. E a lógica que Comparato fala não é apenas a lógica comum, externa à obra, mas a lógica interna do filme. Se o filme quebra a própria lógica interna não há saída. É furo feio ou desrespeito ao expectador.
Exemplos: Quando Cruise escapa da divisão e é perseguido, uma coisa muito simples era descredenciá-lo para entrar novamente no prédio, mas ele retorna usando as suas próprias credenciais (os olhos), e os mesmos olhos são usados pela sua esposa para entrar na penitenciária quando ele já está preso. Como ele pode ter as credenciais se está preso? Um simples “delete” seria suficiente para desabilita-lo. E numa sociedade tão sofisticada tecnologicamente isso é um abuso na inteligência do espectador.
E se se sabe que é tão fácil trocar de olhos que em qualquer cacete armado ou muquifo de esquina se faz em 24 horas, porque não inventaram um sistema mais inteligente e seguro para proteger os prédios do governo? Tipo usando as impressões digitais? Você viu isso em “Missão Impossível” não viu? E você também viu que o mesmo Tom Cruise lá se disfarça muito bem com uma máscara. Porque diabos nesse filme ele precisa injetar uma droga dolorosa debaixo do queixo para deformar o rosto? Por que não bastaria uma máscara? E porque não fazem logo uma cirurgia plástica? Você viu isso em “Face Off” com John Travolta e Nicolas Cage trocando de rosto.
Se eles localizam todo mundo escaneando as íris como não descobriram o homem que raptou o filho de Tom Cruise? E se localizam Tom Cruise pelas íris escaneadas em todo lugar que ele vai, metrô ou shopping, como não o localizam dentro no próprio quartel general da polícia quando ele usa as próprias íris scaneadas para abrir a porta do Templo
E a chave do filme, a grande resposta do enigma, a explicação final é um primor de furos como uma peneira velha. A premissa básica de que o assassino, para escapar da prisão, contaria com uma interpretação, pelo técnico, de um “eco” da visão dos precogs, não se sustenta pois mesmo que o técnico confundisse a visão como um “eco”, ainda assim a bola com o nome do verdadeiro assassino seria criada e aí não haveria como esconder o crime. Se o assassino planejava matar e contratou alguém para fazer o serviço, antes de contratá-lo, pensou no crime e se pensou no crime era para os precogs registrarem o crime antes e não depois como um suposto “eco”.
A cena em que Cruise sai dirigindo um carro diretamente da linha de produção é hilária de tão ridícula, quer dizer que os carros já saem da gigantesca linha de produção diretamente para as auto estradas? Não há sequer um pátio para eles ficarem.
Uma ótima crítica publicada na Veja resume tudo: “Spielberg esqueceu de uma premissa básica do grande suspense, que é deixar o espectador descobrir aos poucos, por deduções lógicas, a chave do enigma. Não é o que acontece em Minority Report.
Primeiro porque o diretor gosta de facilitar o trabalho da platéia, repetindo, enfatizando ou dando de mão beijada todas as dicas. Segundo, porque, de certa forma, os próprios pre-cogs substituem a participação ativa de quem está na poltrona, fazendo com que cada revelação venha fria e sem vida. É certo que em sua fase kubrickiana, Steven Spielberg se mostra mais dark, cultiva humor negro e homenageia os filmes 2001 – uma odisseia no espaço e Laranja mecânica. Nada, contudo, que torne Minority Report a obra-prima que todo mundo vem apregoando.”
Ou seja, se você quiser ver esse filme deixe seus neurônios em casa. Pensar não é uma atividade para o qual Steven Spielberg é especialmente indicado. No final das contas um filme equívoco e um desperdício do talento do ótimo Max Von Sydow. Esqueça esse filme e veja o ator sueco excepcionalmente bem em “Pelle o Conquistador” e “O Sétimo Selo”.


