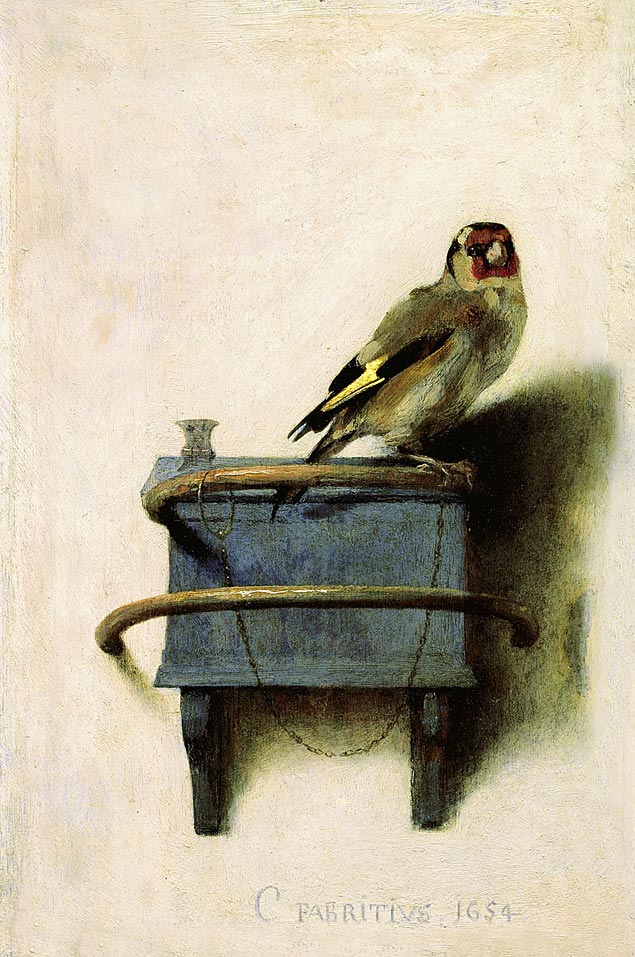Em Mommy, quinto filme do canadense Xavier Dolan, estamos no mesmo país dos seus filmes anteriores, mas aqui temos um Canadá fictício, um país cuja lei permite que os pais possam internar os filhos em hospitais públicos com facilidade. Tirando esse detalhe, o filme pode ser muito bem assistido como um drama realista.
Antes,
porém um parêntesis para falar desse jovem diretor, ator, roteirista,
figurinista, produtor e editor que tem apenas 25 anos de idade e já carrega
consigo um curriculum invejável.
Dolan
chamou a atenção do mundo quando dirigiu e atuou aos 20 anos no seu filme de
estreia: Eu matei a minha mãe filme premiado
no Festival de Cannes. No ano seguinte, o prolífico artista novamente
dirigiu e atuou no maravilhoso Amores Imaginários. E, de novo, foi
premiado em Cannes.
Seus dois filmes
seguintes seguiram a mesma linha provocativa: Laurence Anyways e Tom na
Fazenda. Assim como nos dois primeiros filmes, Dolan, gay assumido, aborda aqui, com
muita propriedade e visão de esteta, esse universo no qual ele se sente
bastante confortável.
Esse texto poderia
perfeitamente gastar todas as suas linhas disponíveis para falar de cada um dos
quatro primeiros filmes de Xavier Dolan, incluindo suas ótimas trilhas sonoras, mas o fim da pauta se aproxima e ainda
não falei de Mommy que mantém a tradição dos filmes do diretor, ganhando o
prêmio do júri do último festival de Cannes, ou melhor, dividindo-o com o
veteraníssimo Jean-Luc Godard. O rapaz não é fraco, não.
A
primeira coisa que, logo de cara, chama a atenção do espectador é o formato da tela:
quadrado, chamado 1:1, como no instagram.
E essa escolha mostra a coragem e a ousadia do jovem diretor, que dessa vez não
atua no filme. A ideia é deixar o público com a sensação de falta de espaço, de
desconforto.
Esse formato de tela não é exatamente uma novidade, já tendo sido usado no filme O Homem das Multidões, de 2013, dirigido por Cao Guimarães e Marcelo Gomes, com a mesma intenção de transmitir a sensação de aprisionamento.
Esse formato de tela não é exatamente uma novidade, já tendo sido usado no filme O Homem das Multidões, de 2013, dirigido por Cao Guimarães e Marcelo Gomes, com a mesma intenção de transmitir a sensação de aprisionamento.
O não ineditismo, entretanto, não tira os aplausos para Dolan,
até porque ele utiliza-se de um recurso muito inteligente e criativo e que não foi sequer
imaginado pela dupla de diretores brasileiros: em certo momento do filme, a tela
se abre aos poucos para o formato tradicional, como pelo esforço das mãos do adolescente protagonista,
mostrando, como belíssima metáfora visual, o sucesso na tentativa de ampliação dos horizontes e libertação das
limitações impostas. É um daqueles momentos que merecem ser eternizados na
história do cinema. E isso tudo vindo ainda por cima pelas mãos de um rapaz de 25 anos.
Impossível não comparar com outro gênio da sétima
arte, também ele ator, diretor, produtor e roteirista. Mantidas as devidas
proporções, falo de Orson Welles que com 26
anos, praticamente a mesma idade de Dolan, trouxe ao mundo Cidadão Kane, renovando
para sempre a estética do cinema com ângulos de câmera ousados e exploração do
campo.
A história do filme gira em torno de um trio
disfuncional: Diane, uma mãe solteira desempregada; seu filho Steve, um adolescente
de 15 anos hiperativo e com déficit de atenção agudo; e Kyla, a vizinha deprimida com problema de auto-afirmação presa num casamento
monótono. Esse trio improvável é responsável pelo precário equilíbrio da
situação dos personagens.
Dá um prazer danado acompanhar o progresso da
carreira do talentoso Xavier Dolan,
perceber que ele já era brilhante quando nos presentou com o seu primeiro filme
e que, a cada obra, ele se aperfeiçoa ainda mais, atinge mais maturidade, beirando o sublime. As suas inúmeras premiações ao redor do mundo lhe
fazem merecida justiça.
Um filme excepcional para se admirar e refletir.